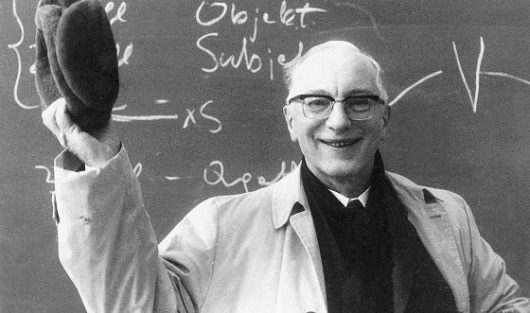O Iluminismo tornou explícito o que esteve por muito tempo implícito na vida intelectual da Europa: a crença que a investigação racional conduz à verdade objetiva. Até mesmo aqueles pensadores iluministas que desconfiavam da razão, como Hume, e aqueles que tentaram circunscrever seus poderes, como Kant, nunca abandonaram sua confiança na argumentação racional. Hume opôs-se à ideia de uma moralidade racional; mas ele justificava a distinção entre o certo e o errado em termos de uma ciência natural das emoções, ficando implícito que poderíamos descobrir a verdade sobre a natureza humana e construir sobre ela uma fundação firme. Kant pode ter rebaixado a “razão pura” à condição de uma história cheia de ilusões, mas colocou a razão prática em seu lugar, argumentando em favor da validade absoluta da lei moral. Nos 200 anos subsequentes, a razão manteve sua posição de árbitro da verdade e fundação do conhecimento objetivo.
A razão está agora num processo de retração, tanto como ideal quanto como realidade. Em seu lugar adveio a “visão de um ponto de vista externo” – que põe toda nossa tradição de aprendizado em xeque. Somos avisados que o apelo à razão é um mero apelo à cultura ocidental, que fez da razão sua pedra-de-toque e clama possuir uma objetividade que nenhuma cultura poderia possuir. Ademais, ao afirmar que a razão é seu fundamento, a cultura ocidental ocultou seu etnocentrismo pernicioso; travestiu as maneiras ocidentais de pensar como se tivesse força universal. A razão, portanto, é uma mentira e ao expor essa mentira revelamos a opressão que jaz no coração da cultura ocidental. Por trás do ataque à razão espreita-nos outra e mais virulenta hostilidade: a hostilidade à cultura e ao currículo que herdamos do iluminismo.
Se examinarmos os gurus do novo establishment universitário, aqueles cujos trabalhos são, amiúde, citados no interminável fluxo de artigos devotados a desbancar a cultura ocidental, descobrimos que eles são todos oponentes da verdade objetiva. Nietzsche é um favorito, já que ele asseverou explicitamente: “Não existem verdades,” ele escreveu, “apenas interpretações”. Agora, ou o que Nietzsche disse é verdade – o que no caso não o é, já que não existem verdades – ou é falso. Dito o suficiente, você pode imaginar. Mas não: a questão pode ser asseverada de maneira menos brusca e o paradoxo, velado. Isso explica o apelo a pensadores mais recentes – Michel Foucault, Jacques Derrida e Richard Rorty – que devem sua eminência intelectual não a seus argumentos (dos quais eles têm muito poucos) mas ao papel que empenham em dar autoridade à rejeição da autoridade e ao compromisso com a impossibilidade de compromissos absolutos. Em cada um deles você encontrará a visão de que a verdade, a objetividade, o valor e o significado são quimeras e que tudo que podemos ter é a morna segurança da nossa própria opinião.
É inútil argumentar contra esses gurus. Nenhum argumento, por mais racional que seja, pode conter a enorme vontade de acreditar que os torna populares para seus leitores. Afinal de contas, um argumento racional assume precisamente o que eles colocam em xeque – a saber, a possibilidade de se argumentar racionalmente. Ao menos um deles – Michel Foucault – foi objeto de uma hagiografia, Saint Foucault por David Halperin, tomando nota da mensagem libertadora contida em seu ataque ao pensamento estruturado. Mas cada um deve sua reputação a uma nova espécie de fé religiosa: a fé na relatividade de todas as opiniões, incluindo esta.
A verdade, nos diz Foucault, não é um absoluto que pode ser compreendido e avaliado de alguma forma transhistórica, como que por meio dos olhos de Deus. A verdade é filha do “discurso” e como o discurso muda, o mesmo vale para a verdade contida nele. O que o termo “discurso” significa? Olhe para qualquer periódico acadêmico da área de humanidades e você o encontrará no centro de milhares de debates artificiais: “Falocentrismo ocidental e o discurso de gênero,” “O discurso da supremacia branca nos romances de Conrad,” “O discurso da exclusão: uma perspectiva homossexual,” etc. Ao descrever os argumentos como “discurso” você os observa por detrás, no estado mental em que surgiram. Você não confronta mais a verdade ou razoabilidade da opinião de alguém mas foca diretamente na força social que fala por meio dela. A questão deixa de ser “O que tu estas a dizer?” e torna-se, em vez disso, “De que perspectiva estas a falar?”. Este foi o triunfo de Foucault, prover uma palavra que nos capacita a reanexar todo pensamento a seu contexto e fazer do contexto algo mais importante que o pensamento.
O discurso, para Foucault, é o produto de uma época e existe em virtude do poder social vigente. É o que Marx chamou “ideologia”: uma coleção de ideias que não possuem autoridade por si mesmas mas que disfarçam e mistificam a realidade social. Não há nada mais para a verdade a não ser o poder que a considera conveniente; e ao desmascarar o poder, desestabelecemos a verdade. Em qualquer época existem aqueles que recusam o poder vigente. Estes são denunciados, marginalizados – até mesmo encarcerados como loucos. A voz deles é a voz da “não-razão” e para os que estão na posição de autoridade o que eles proferem não é verdade, mas um delírio. Entretanto, Foucault deixa claro, não há nada de objetivo nessa denúncia de loucura: não é nada além de um dispositivo pelo qual o poder estabelecido, o poder da ordem burguesa se sustenta, salvaguardando sua própria “verdade” contra o discurso rival que o rejeita.
Foucault e seus seguidores generalizaram este argumento, ao sugerir que a visão tradicional do homem, da família, das relações sexuais e da moralidade sexual não possuem autoridade além daquela fornecida pelo poder que a sustenta. Em seus três volumes do History of Sexuality, Foucault dá um passo adiante. O prazer sexual, ele afirma, não é intrinsicamente problemático, não há razão na natureza das coisas para controlá-lo ou suprimi-lo. Se o sexo for “problematizado”, a fim de se proibir alguns prazeres e encorajar outros, então este é um fato social curioso, que pode ser explicado mas nunca justificado. Ele descreve seu próprio estudo do sexo, tomando emprestado de Nietzsche, como uma “genealogia” da moral – como uma explicação das crenças que, por não terem nenhuma validade intrínseca ou verdade, devem ser explicadas em termos de seu contexto social, e só assim justificadas.
Tal modo de vida foi extremamente útil a Foucault, cuja homossexualidade descontrolada não sofrera nenhuma censura. Sua morte por SIDA pôs um fim à sua predação sexual. Mas não limitou sua influência: pelo contrário, coroou seu pensamento com um halo de correção política. Foucault não estava meramente a advogar em favor de prazeres imediatos, foi um mártir deles. Ainda, essa nuvem de correção não deve levar-nos a aceitar sua desmistificação da moral sexual. Para a “genealogia” de Foucault não há distinção entre causa e efeito. Por mais que Foucault diga o contrário, pode ser objetivamente verdadeiro que a sociedade e as realizações pessoais são mais facilmente garantidas pelo casamento heterossexual do que pela transgressão sexual e que o capital político e cultural de uma época é mais facilmente garantido onde as pessoas devotam-se a criar seus filhos em seus lares. Em vez de ser um efeito do poder social, a velha moral poderia ser sua causa. No que concerne a isso – causa e efeito – o método diagnóstico de Foucault não pode nos dizer nada. A suposição é que, ao ligar uma crença ao poder dos que o sustentam, a alegação em favor da objetividade é desfeita. Mas esta suposição pode ser o polo oposto ao da verdade.
Popular pela mesma razão que a análise do poder de Foucault é a desconstrução associada com Jacques Derrida. Ninguém sabe – ou ao menos ninguém explicou até agora – o que a desconstrução é. Mas é sua excessiva obscuridade que constitui uma ampla parte do seu apelo. Ao oferecer muitas palavras sem sentido, o desconstrucionista é capaz de fortalecer sua suposição mais importante: que a significação é impossível. Não existe tal coisa como o significado objetivo, decifrável de uma palavra ou de um argumento. No jargão oficial, não existe “significado transcendental”. Cada palavra, uma vez proferida, está refém de uma interpretação e a decisão de interpretar uma palavra de uma maneira ou outra é, em última instância, análise política – as únicas questões reais são aquelas levantadas por Lênin: “Quem?” e “A quem?” Quem está interpretando e contra quem enquanto vítima? Se os velhos homens brancos (Dead white males) monopolizaram a interpretação de Jane Austen, por exemplo, surpreende que as interpretações oficiais dos romances de Austen não reconheçam algum lugar real para as mulheres, bem como para suas aspirações? Surpreende que estes romances sejam construídos como justificativas, em vez de repúdios ao casamento nos moldes burgueses? Confrontados por um texto do cânone tradicional, podemos desconstruí-lo de acordo com nossa vontade, pois as únicas restrições que os afligem são aquelas que nós escolhemos. O criticismo desconstrutivo é como uma produção moderna do teatro tradicional: o texto é lido contra si próprio, de modo que signifique qualquer coisa que a crítica ou o produtor bem escolha. E, invariavelmente, o propósito é político: desbancar as velhas autoridades em nome da liberação.
O discurso, para Foucault, é o produto de uma época e existe em virtude do poder social vigente. É o que Marx chamou “ideologia”: uma coleção de ideias que não possuem autoridade por si mesmas mas que disfarçam e mistificam a realidade social. Não há nada mais para a verdade a não ser o poder que a considera conveniente; e ao desmascarar o poder, desestabelecemos a verdade. Em qualquer época existem aqueles que recusam o poder vigente. Estes são denunciados, marginalizados – até mesmo encarcerados como loucos. A voz deles é a voz da “não-razão” e para os que estão na posição de autoridade o que eles proferem não é verdade, mas um delírio. Entretanto, Foucault deixa claro, não há nada de objetivo nessa denúncia de loucura: não é nada além de um dispositivo pelo qual o poder estabelecido, o poder da ordem burguesa se sustenta, salvaguardando sua própria “verdade” contra o discurso rival que o rejeita.
Foucault e seus seguidores generalizaram este argumento, ao sugerir que a visão tradicional do homem, da família, das relações sexuais e da moralidade sexual não possuem autoridade além daquela fornecida pelo poder que a sustenta. Em seus três volumes do History of Sexuality, Foucault dá um passo adiante. O prazer sexual, ele afirma, não é intrinsicamente problemático, não há razão na natureza das coisas para controlá-lo ou suprimi-lo. Se o sexo for “problematizado”, a fim de se proibir alguns prazeres e encorajar outros, então este é um fato social curioso, que pode ser explicado mas nunca justificado. Ele descreve seu próprio estudo do sexo, tomando emprestado de Nietzsche, como uma “genealogia” da moral – como uma explicação das crenças que, por não terem nenhuma validade intrínseca ou verdade, devem ser explicadas em termos de seu contexto social, e só assim justificadas.
Tal modo de vida foi extremamente útil a Foucault, cuja homossexualidade descontrolada não sofrera nenhuma censura. Sua morte por SIDA pôs um fim à sua predação sexual. Mas não limitou sua influência: pelo contrário, coroou seu pensamento com um halo de correção política. Foucault não estava meramente a advogar em favor de prazeres imediatos, foi um mártir deles. Ainda, essa nuvem de correção não deve levar-nos a aceitar sua desmistificação da moral sexual. Para a “genealogia” de Foucault não há distinção entre causa e efeito. Por mais que Foucault diga o contrário, pode ser objetivamente verdadeiro que a sociedade e as realizações pessoais são mais facilmente garantidas pelo casamento heterossexual do que pela transgressão sexual e que o capital político e cultural de uma época é mais facilmente garantido onde as pessoas devotam-se a criar seus filhos em seus lares. Em vez de ser um efeito do poder social, a velha moral poderia ser sua causa. No que concerne a isso – causa e efeito – o método diagnóstico de Foucault não pode nos dizer nada. A suposição é que, ao ligar uma crença ao poder dos que o sustentam, a alegação em favor da objetividade é desfeita. Mas esta suposição pode ser o polo oposto ao da verdade.
Popular pela mesma razão que a análise do poder de Foucault é a desconstrução associada com Jacques Derrida. Ninguém sabe – ou ao menos ninguém explicou até agora – o que a desconstrução é. Mas é sua excessiva obscuridade que constitui uma ampla parte do seu apelo. Ao oferecer muitas palavras sem sentido, o desconstrucionista é capaz de fortalecer sua suposição mais importante: que a significação é impossível. Não existe tal coisa como o significado objetivo, decifrável de uma palavra ou de um argumento. No jargão oficial, não existe “significado transcendental”. Cada palavra, uma vez proferida, está refém de uma interpretação e a decisão de interpretar uma palavra de uma maneira ou outra é, em última instância, análise política – as únicas questões reais são aquelas levantadas por Lênin: “Quem?” e “A quem?” Quem está interpretando e contra quem enquanto vítima? Se os velhos homens brancos (Dead white males) monopolizaram a interpretação de Jane Austen, por exemplo, surpreende que as interpretações oficiais dos romances de Austen não reconheçam algum lugar real para as mulheres, bem como para suas aspirações? Surpreende que estes romances sejam construídos como justificativas, em vez de repúdios ao casamento nos moldes burgueses? Confrontados por um texto do cânone tradicional, podemos desconstruí-lo de acordo com nossa vontade, pois as únicas restrições que os afligem são aquelas que nós escolhemos. O criticismo desconstrutivo é como uma produção moderna do teatro tradicional: o texto é lido contra si próprio, de modo que signifique qualquer coisa que a crítica ou o produtor bem escolha. E, invariavelmente, o propósito é político: desbancar as velhas autoridades em nome da liberação.
Em suas palavras: “Os pragmatistas[1] veem a verdade como… o que seja bom para acreditar… eles veem a lacuna entre a verdade e a justificação não como algo a ser transposto por isolamento de uma forma de racionalidade natural e transcultural que pode ser usada para criticar certas culturas e elogiar outras, mas simplesmente como a lacuna entre o bom real e o melhor possível… Para os pragmatistas, o desejo pela objetividade não é o desejo de escapar as limitações de uma comunidade, mas simplesmente o desejo de acordo intersubjetivo possível, o desejo de estender a referência do “nós” tanto quanto pudermos”. Em outras palavras, o pragmatismo nos permite rejeitar a ideia de “uma racionalidade… transcultural”. Não há lugar para as ideias tradicionais de objetividade e verdade universal; tudo que importa é aquilo com que concordamos.
Mas quem somos nós? E com o que concordamos? Voltemo-nos aos ensaios de Rorty e você logo descobrirá. “Nós” somos todos feministas, esquerdistas [4], advogados da liberação gay e do currículo aberto: “nós” não acreditamos em Deus ou qualquer religião herdada; tampouco as tradicionais ideias de autoridade, ordem e autodisciplina têm peso para nós. “Nós” mudamos de opinião de acordo com o significado dos textos ao criar por meio das nossas palavras um consenso que nos inclua. Nada nos constrange, além da comunidade a qual escolhemos viver. E como não existem verdade objetiva mas apenas nosso próprio consenso auto-engendrado, nossa posição é inacessível de qualquer ponto de vista exterior. O pragmatista não apenas pode decidir o que pensar; ele pode proteger a si mesmo de qualquer um que não pense o mesmo que ele.
Um verdadeiro pragmatista, sem dúvida, inventará a história da mesma forma que ele inventa todo o resto, ao persuadir-‘nos’ e fazer com que concordemos com ele. Entretanto, vale a pena observar a história, apenas para verificarmos o quão paradoxal e perigosa é visão de Rorty acerca do intelecto humano. A ummah islâmica – a sociedade de crentes – era e continua sendo o consenso mais extenso que o mundo já conheceu. Ela reconhece expressamente que o consenso (ijma‘) serve de critério para a verdade, em realidade, um substituto para ela, além de estar engajada em um incessante esforço de incluir o maior número de possíveis na sua abrangente primeira pessoa do plural. Ademais, o que quer que Rorty entenda por crenças “boas” ou “melhores”, o muçulmano pio deve, certamente, acreditar que detém algumas das melhores: crenças que trazem segurança, estabilidade, felicidade, suporte para o mundo e uma consciência satisfeita que explode os kafirs, que pensam de maneira diferente.
Ainda assim, não permanece, em algum lugar, aquele incômodo sentimento de que aquelas crenças agradáveis podem não ser verdade e de que as opiniões frágeis do ateu pós-moderno podem tirar vantagem delas? De acordo com a concepção pragmatista de Rorty, isto não é algo que um pragmatista possa dizer. Afinal, ateus pós-modernos, à parte de muçulmanos pios, não compõem uma comunidade – nem mesmo uma comunidade imaginária. Eles não têm credo ou catecismo, nenhum texto sagrado, nenhum consenso estabelecido. Ainda assim Rorty é um ateu pós-moderno. Por quê? Não porque ele pertença a uma comunidade de descrentes, mas porque ele acredita que o ateísmo seja verdade. O pragmatismo que ascende o consenso ao lugar da verdade torna-se um logro.
Em seus próprios olhos, o iluminismo envolveu a celebração de valores universais e uma natureza humana comum. A arte do iluminismo percorreu vários outros lugares, outros tempos e outras culturas, numa heroica tentativa de justificar uma visão do homem como livre e autocriado. Esta visão inspirou e foi inspirada pelo currículo tradicional, cujo qual tem sido o primeiro alvo de questionamento e preocupação da universidade pós-moderna. Essa preocupação explica a popularidade de outro guru relativista – Edward Said, cujo livro Orientalism, mostrou como descartar o iluminismo em si, como uma forma de imperialismo cultural. O Oriente aparece na arte e literatura Ocidental, diz Said, como algo exótico, irreal, teatral e, portanto, frívolo. Longe de ser um generoso reconhecimento de outras culturas, a arte orientalista da Europa iluminista é uma tentativa de apequená-las, reduzi-las a episódios decorativos dentro do grande império do progresso Ocidental.
O argumento de Said anda de mão em mão junto com aqueles que advogam um currículo multicultural. O currículo tradicional, um produto do iluminismo, é, somos ensinados, monocultural, devotado a perpetuar o ponto de vista da civilização Ocidental como inerentemente superior às suas rivais. Ela também é patriarcal, produto dos velhos homens brancos europeus que há muito perderam sua autoridade. E sua pressuposição de uma perspectiva racional universal, ponto o qual de onde toda a humanidade pode ser estudada, não é melhor que a racionalização das suas ambições imperialistas. Em contraste, nós, que vivemos num ambiente amorfo e multicultural da cidade pós-moderna, devemos abrir nossos corações e mentes a todas culturas e não ater-nos a nenhuma delas. O resultado inescapável disso é o relativismo: o reconhecimento que nenhuma cultura tem qualquer apelo especial à nossa atenção e que nenhuma cultura pode ser julgada ou descartada desde fora.
Mas uma vez mais há um paradoxo. Aqueles que advogam esta abordagem multicultural são, via de regra, veementes em descartar a cultural Ocidental. Said não é uma exceção. Enquanto exortam-nos a julgar outras culturas em seus próprios termos, também pede que julguemos a cultura Ocidental de um ponto de vista desde fora – pô-la contra alternativas e julgá-la, adversamente, como etnocêntrica e racista.
Mas as críticas feitas à cultura Ocidental são verdadeiras confirmações do que pretendem criticar. É graças ao iluminismo e sua concepção de valores humanos como universais que a igualdade sexual e racial tem tanto apelo sobre nosso senso comum. É a visão universalista do homem que faz exigir tanto da literatura e da arte Ocidental – mais do que nós jamais deveríamos exigir da arte e da literatura de Java, Bornéu ou da China. É a tentativa de tentar abarcar outras culturas – uma tentativa que não tem paralelo na arte tradicional da Arábia, Índia ou África – que faz da arte Ocidental refém da crítica severa e capciosa de Said. E é apenas uma visão muito estreita da nossa tradição artística que não descobre nela um multiculturalismo que é muito mais imaginativo que qualquer coisa agora ensinada sob essa alcunha. Nossa cultura invoca um sentimento histórico de comunidade, enquanto celebra valores humanos universais. É enraizada na experiência cristã que bebe de uma fonte rica em sentimentos humanos que ela difunde por mundos imaginários. Do Orlando Furioso de Ariosto ao Don Juan de Byron, do Poppea de Monteversi ao Hiawatha de Longfellow, do The Winter’s Tale ao Madama Butterfly, nossa cultura tem, continuamente, aventurando-se em território espiritual que não tem lugar no mapa cristão.
O iluminismo, que pôs diante de nós um ideal de verdade objetiva, também dispersou a névoa da doutrina religiosa. A consciência moral, livre da observância religiosa, começou a ver a si própria desde fora. Ao mesmo tempo, a crença numa natureza humana universal, tão poderosamente defendida por Shaftesbury, Hutcheson e Hume manteve o ceticismo cercado. Seus contemporâneos iluministas teriam considerado absurda a sugestão que, ao traçar o curso da simpatia humana, Shaftesbury e Hume estavam meramente descrevendo um aspecto da cultura “Ocidental”. Para eles, as “ciências da moral”, incluindo o estudo da arte e da literatura, incorporavam o que T. S. Eliot posteriormente chamou de a “busca comum pelo julgamento verdadeiro”. E essa busca comum ocupou os maiores pensadores da era vitoriana, que, mesmo quando davam os primeiros passos na sociologia e na antropologia, acreditaram na validade objetiva dos seus resultados e numa natureza humana universal que seria revelada neles.
Tudo isso mudou completamente. Em lugar da objetividade nós só temos “intersubjetividade” – em outras palavras, consenso. Verdades, significados, fatos e valores são agora considerados como negociáveis. O curioso, entretanto, é que este confuso subjetivismo está de mãos dadas com uma censura vigorosa. Aqueles que colocam o consenso no lugar da verdade encontram-se distinguindo o consenso falso do verdadeiro. Assim, o consenso de Rorty exclui rigorosamente todos os conservadores, tradicionalistas e reacionários. Apenas os esquerdistas podem pertencer a ele, apenas feministas, radicais, gays, ativistas e antiautoritários podem tirar vantagem da desconstrução; tal como apenas os oponentes do “poder” podem fazer uso das técnicas de sabotagem moral de Foucault; e tal como apenas os multiculturalistas podem beneficiar-se das críticas de Said aos valores do iluminismo. A conclusão inescapável é que os gurus de hoje em dia advogam a subjetividade, relatividade e o irracionalismo não para permitir todas as opiniões mas precisamente para excluir as opiniões de pessoas que acreditam nas autoridades tradicionais e na verdade objetiva.
Se você estudar as opiniões que prevalecem nas academias modernas, descobrirá que elas são de dois tipo: aquelas que emergem do constante questionamento dos valores tradicionais e aquelas que emergem da tentativa de prevenir qualquer tentativa de questionar as alternativas esquerdistas. Todas as crenças subsequentes são efetivamente proibidas nos campus normais da América: (1) A crença na superioridade da cultural Ocidental; (2) a crença de que podem existir distinções moralmente relevantes entre sexos, culturas e religiões; (3) a crença no bom gosto, seja em literatura, música, arte, amizade ou comportamento e (4) a crença nos costumes sexuais tradicionais. Você pode dar crédito a essas crenças, mas é perigoso confessá-las e ainda mais perigoso defendê-las, pois você pode ser acusado de discurso odioso (“hate speech”) – em outras palavras, de julgar adversamente alguns grupos de seres humanos. E a hostilidade a essas crenças não está fundada na razão e nunca é suscetível a justificação racional. A universidade pós-moderna não derrotou a razão mas a substituiu por um novo tipo de fé – uma fé sem autoridade e sem transcendência, uma fé ainda mais tenaz, exatamente por não se reconhecer enquanto tal.
A religião do politicamente correto não está confinada à América. Recentemente, Glen Hoddle, o treinador de futebol inglês, expressou uma visão (perfeitamente aceitável quando proferida por um representante de alguma minoria étnica) que pessoas deficientes estão sofrendo nesta vida por pecados cometidos em outra. Ele foi castigado por seus empregadores, pela mídia e pelo governo, em uma notável série de julgamentos. Então ele foi demitido. Tais caças às bruxas estão cada vez mais frequentes na Grã-Bretanha, são conduzidas de fora por cortes de burocratas e comissões quase-independentes como a Comissão para Igualdade Racial. E o princípio orientador é sempre “culpado até que se prove inocente”.
Similarmente, você irá constatar que todos aqueles que aderem aos “métodos” relativistas que Foucault, Derrida e Rorty introduziram nas humanidades são veementes apoiadores de um código politicamente correto que condena a divergência em termos absolutos e intransigentes. A teoria relativista existe com o propósito de suportar uma doutrina absolutista. Daí a extrema confusão que adentrou o campo da desconstrução quando foi descoberto que um de seus líderes, Paul de Man, já foi simpático aos nazistas. É manifestamente absurdo sugerir que um desacordo semelhante seria causado caso a descoberta fosse que Paul de Man já foi comunista – mesmo se ele tivesse feito parte de algum dos grandes crimes comunistas. Em tal caso, ele teria se aproveitado do mesmo endosso cheio de compaixão que foi oferecido a comunistas e companheiros de viagem como Lukács, Merleau-Ponty e Sartre. O ataque ao significado feito pelos desconstrucionistas não é um ataque aos “nossos” significados, que permanecem exatamente o que eles sempre foram: radicais, igualitários e transgressivos. É um ataque aos significados “deles” – significados sequestrados de uma tradição de pensamento artístico e filosófico e passados de uma geração à outra pelas maneiras tradicionais de ensino.
Vale a pena manter tudo isso em mente quando consideramos o estado atual da vida intelectual na Europa e na América. Embora áreas como a filosofia tenham, por muitos anos, permanecido imunes ao subjetivismo que prevalece, elas também estão começando a sucumbir a ele. Professores que permanecem apegados ao que Rorty chama “um tipo natural e transcultural de racionalidade” – em outras palavras, quem crê poder dizer algo permanentemente e universalmente verdadeiro acerca da condição humana – consideram cada vez mais difícil despertar interesse nos estudantes, para quem a negociação tomou o lugar da argumentação racional. Expor a ética de Aristóteles e mostrar que as virtudes cardeais por ele defendidas fazem parte da nossa felicidade para nós modernos tanto quanto elas faziam para os antigos gregos é fazer um convite à incompreensão. O máximo que um estudante moderno pode administrar é a curiosidade: esta, ele confessará, é a maneira como eles encaravam a questão. No que diz respeito a mim, quem sabe?
Desse estado de ceticismo confuso, o estudante pode dar um salto de fé. E o salto nunca é para o currículo tradicional, o antigo cânone, a crença em padrões objetivos e formas de vida estabelecidas. É sempre um passo adiante, no mundo da escolha e da opinião livres, no qual nada tem autoridade e nada é objetivamente certo ou errado. Nesse mundo pós-moderno, não existe julgamento adverso – a menos que haja um juiz adverso. É um mundo que se assemelha a um parque de diversões, no qual todos têm direito à sua cultura, ao se “estilo de vida” e às suas opiniões.
E esta é a razão, paradoxalmente, pela qual o currículo pós-moderno promove a censura – da mesma forma que o esquerdismo o faz. Quando tudo é permitido, é vital proibir o proibidor. Todas culturas sérias são fundadas em distinções entre certo e errado, verdadeiro e falso, bom e mau gosto, conhecimento e ignorância. Era à perpetuação dessas distinções que as humanidades estavam, no passado, devotadas. Dessa forma, o ataque pós-moderno ao currículo e a veemente tentativa de impor um padrão “politicamente correto” – significa, com efeito, um padrão de não-exclusão e não-julgamento.
Mas o ataque ao currículo tradicional é infundado, pois o currículo tradicional jamais foi monocultural. Nossos ancestrais estudaram – e quero dizer que estudaram de fato – culturas que lhes eram inteiramente estranhas. Aprenderam as línguas e a literatura da Grécia e de Roma, vieram a compreender, amar e até mesmo, à sua maneira, adorar os deuses pagãos; traduziram a partir do hebreu, sânscrito e árabe; vagaram pelo mundo com uma curiosidade insaciável, acreditando com toda força que nada que fosse humano lhes seria estranho. Fazia parte da natureza do estudante universitário do século XIX aprender a língua do país para o qual viajasse, bem como estudar sua literatura, religião, história e costumes – a ponto de, amiúde, tornar-se um nativo, como muito dos britânicos na Índia e muito dos indianos na Grã-Bretanha. O iluminismo europeu, levado pelo comércio e pelas aventuras coloniais ao litoral do mediterrâneo oriental, inspirou a classe intelectual do Egito e do Líbano, tendo o aprendizado universal sempre em vista. Edward Said é um produto disso: ele é uma prova viva contra suas próprias teorias.
Tudo isso traz sobre nós a natureza profundamente paradoxal do novo relativismo. Enquanto afirma que todas as culturas são iguais e que fazer julgamentos entre elas é absurdo, o novo relativismo apela secretamente à crença oposta. Seu empreendimento é convencer-nos de que a cultural ocidental e o currículo tradicional são racistas, etnocêntricos, patriarcas e, portanto, além do limite da aceitabilidade política. Por mais falsas que essas acusações sejam, elas pressupõem a visão universalista que declaram ser impossível.
A consciência subliminar desse paradoxo explica a popularidade dos gurus que discuti. Seus argumentos pertencem a uma nova espécie de teologia: a teologia do politicamente correto. Como em toda teologia, não é a qualidade do argumento, mas a natureza da conclusão que torna a discussão aceitável. As crenças relativistas existem porque sustentam uma comunidade, a nova ummah dos desenraizados e dos descontentes. Dessa maneira, em Rorty, Derrida e Foucault, nós encontramos uma duplicidade de propósitos: de um lado, desmontar todas as alegações de verdade absoluta e por outro, sustentar as ortodoxias sobre as quais suas congregações dependem. O mesmo raciocínio que pretende destruir as ideias de verdade objetiva e valor absoluto impõe o politicamente correto como absolutamente obrigatório e o relativismo cultural como objetivamente verdadeiro.
Qual deve ser nossa resposta a isso? Claramente, a primeira conclusão a que devemos chegar é que o novo relativismo é autocontraditório. Seu caráter absolutamente censorioso já é prova disso, também o é sua constante pressuposição da perspectiva “transcultural” que ele nega que seja possível. Sem tal perspectiva, a própria ideia de pluralidade de culturas não poderia ser expressa. E qual perspectiva é essa – a “do ponto de vista além da cultura” – senão a perspectiva da razão?
A segunda conclusão que podemos tirar é que, intelectualmente falando, o projeto do Iluminismo, como Alastair MacIntyre chamou – o projeto de derivar uma moralidade objetiva a partir da argumentação racional – é uma realidade para nós tanto quanto fora para Kant ou Hegel. O problema se encontra em fornecer fundamentos racionais para a moralidade ou para princípios objetivos de crítica. O problema se encontra em persuadir as pessoas a aceitá-los. Embora existam aqueles que, como John Gray, que nos dizem que o projeto falhou, a falha se encontra neles e não no projeto. É possível fornecer uma defesa racional da moralidade tradicional e mostrar por que a natureza humana e as relações pessoais a requerem. Mas o argumento é difícil. Nem todos podem segui-lo, tampouco todos têm o tempo, a inclinação ou a sensibilidade necessária para perceber o que está em questão. Dessa maneira, a razão, que gera questões fáceis enquanto provê apenas respostas difíceis, muito provavelmente mais destruirá do que fundamentará nossas devoções.
O que está errado com o projeto Iluminista não é a crença que a razão pode prover uma moralidade transcultural. Pois bem, essa crença é verdadeira. O que está errado é a suposição de que as pessoas têm algum interesse, ainda que débil, na razão. A falsidade dessa suposição está aí, para todos verem, em nossas academias: no relativismo de seus gurus e no absolutismo equivocado – absolutismo sobre as coisas erradas e pelas razões erradas, absolutismo que exclui tudo ao seu redor, exceto os relativistas.
Notas:
[1] Retirado de: http://www.city-journal.org/html/9_2_urbanities_what_ever.html
[2] É estudante de Filosofia e responsável pelo site http://www.andreassibarreto.org/.
[3] Uma apreciação crítica, em meu entender, definitiva, do pragmatismo de Rorty pode ser lida em “Rorty e os animais”, In: CARVALHO, Olavo de. O Imbecil Coletivo, 3ª ed., Rio de Janeiro: ed. Faculdade da Cidade, p. 60-68, 1996. (N. Do T.)
[4] A palavra usada por Scruton aqui é liberal, que em inglês tem o significado do português “esquerdista”. É aos esquerdistas (mormente americanos) que Lionel Trilling se refere em seu The Liberal Imagination (1950), como mostrou Olavo de Carvalho em “Uma lição tardia” (http://www.midiasemmascara.org/artigos/cultura/12531-uma-licao-tardia-1.html).
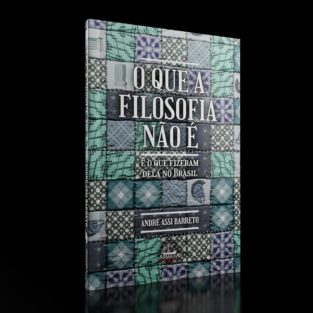
Resenhas e depoimentos sobre meu livro, "O que a Filosofia não é o que fizeram dela no Brasil"

Qual o principal inimigo do espiritismo nos últimos anos?
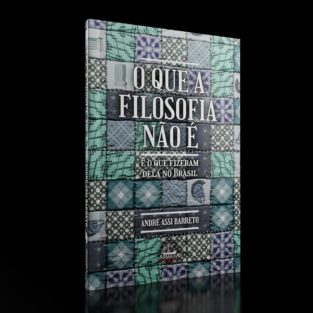
Meu mais recente livro: "O que a Filosofia não é e o que fizeram dela no Brasil".
![[POD] Lukács e a história, consciência de classe e arte de esquerda](https://andreassibarreto.com/wp-content/uploads/2021/03/7d2fd877-3b4e-4034-b1ab-46294ca616a0-556x313.jpg)
[POD] Lukács e a história, consciência de classe e arte de esquerda
Olá,
o que você achou deste conteúdo? Conte nos comentários.
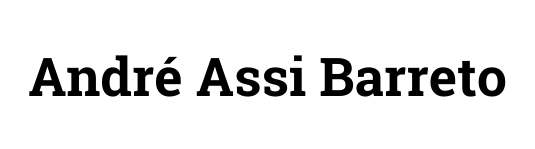

![[POD] Gramsci e os cadernos da Guerra Cultural](https://andreassibarreto.com/wp-content/uploads/2021/03/1af1d57e-cea6-4b53-b24a-243e3aabb7a8-556x313.jpg)